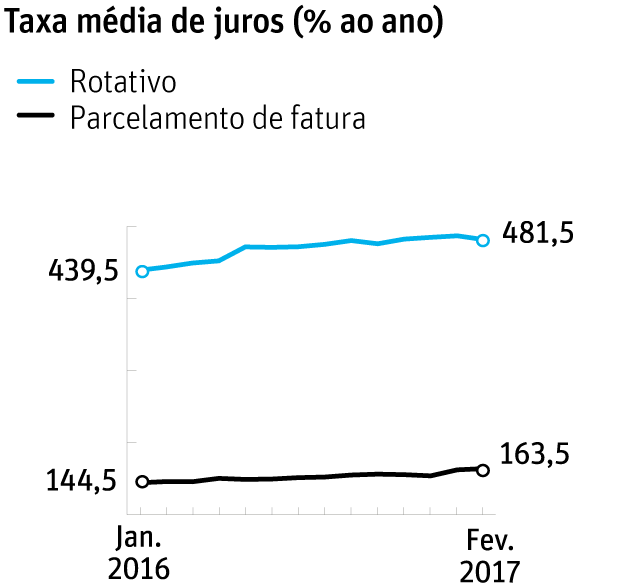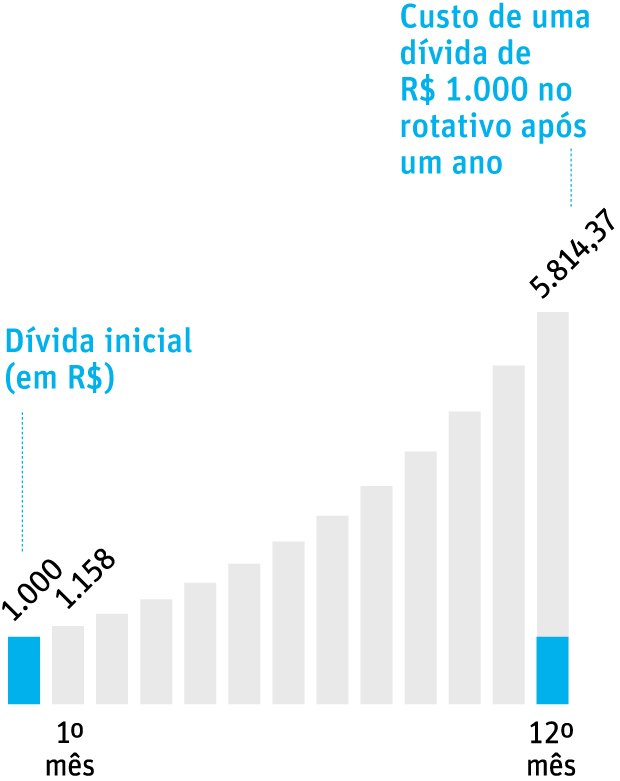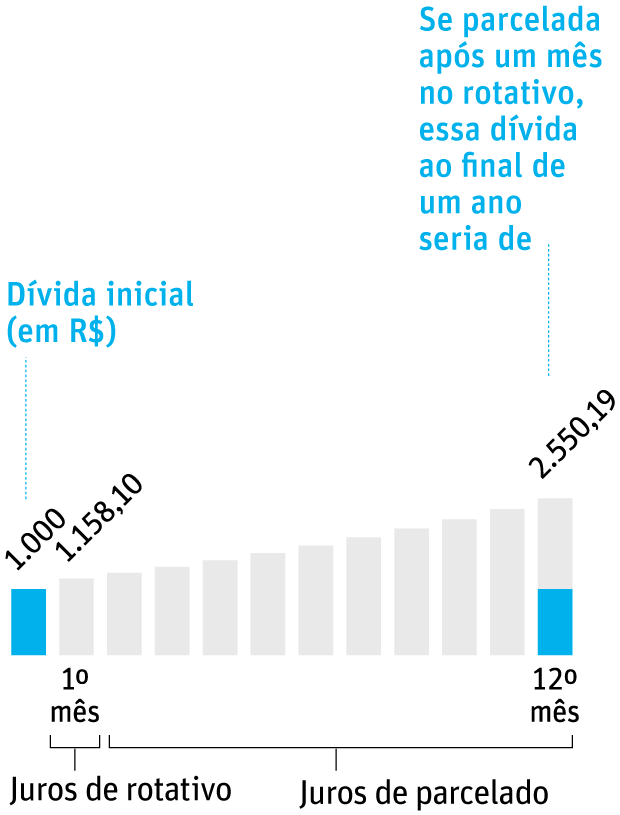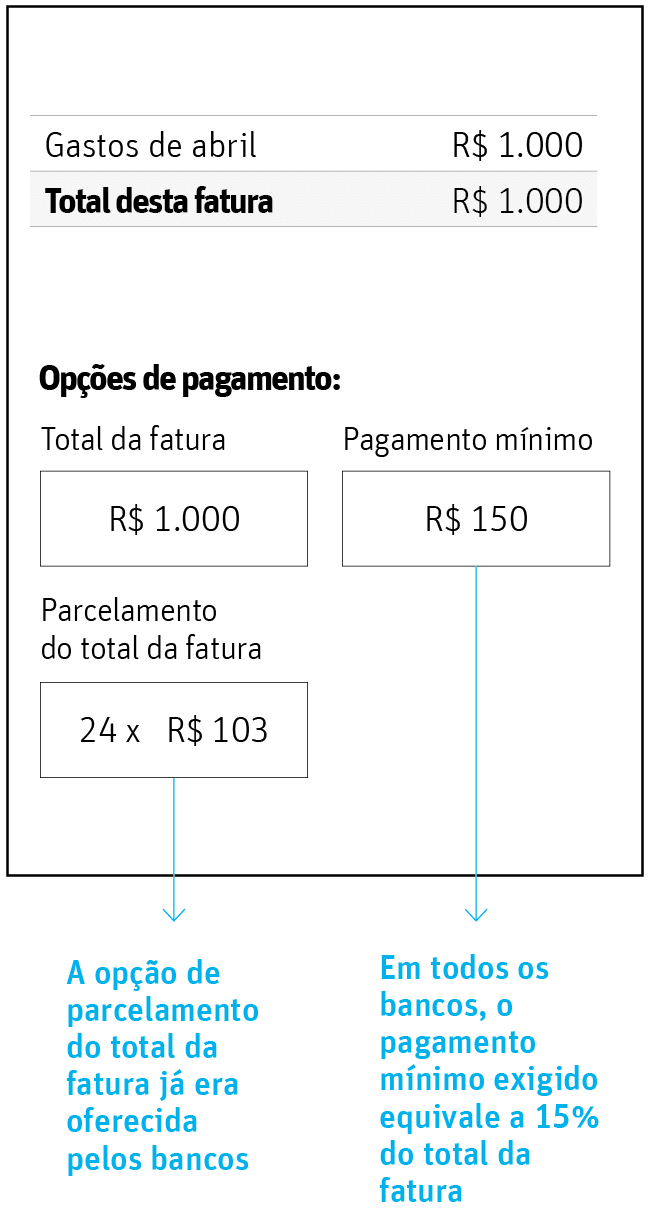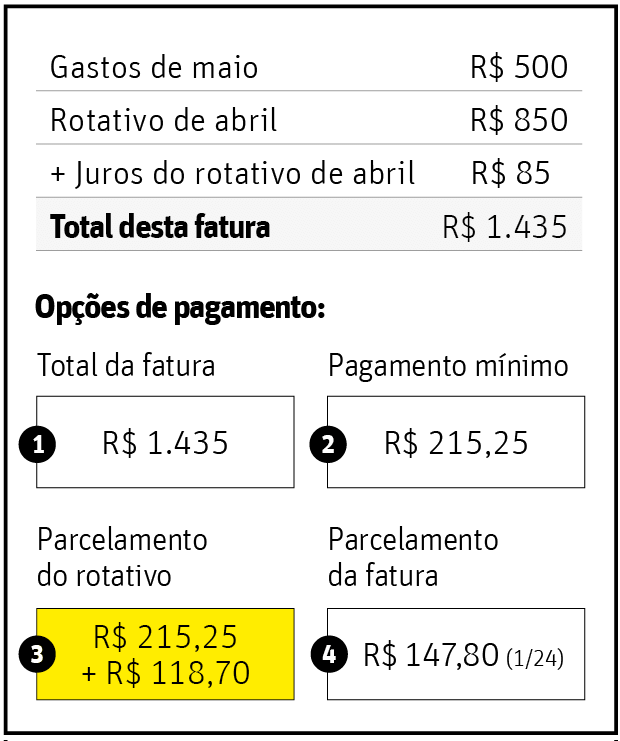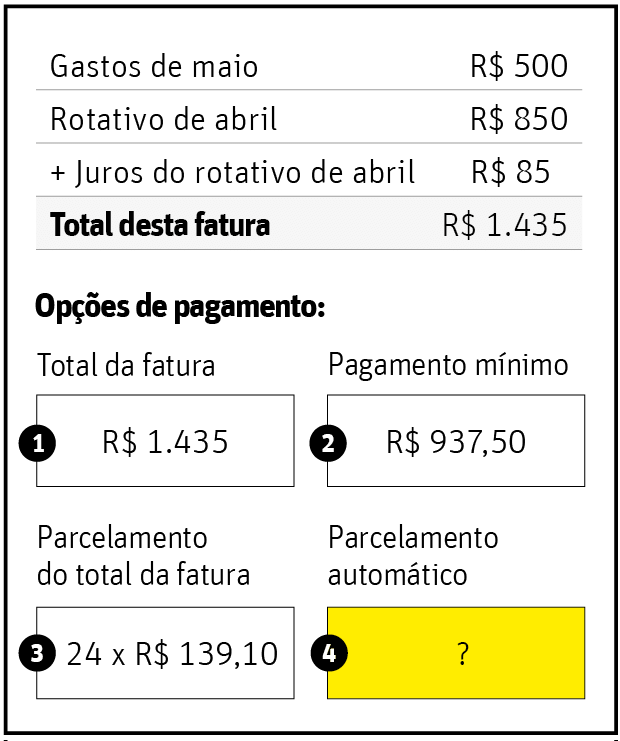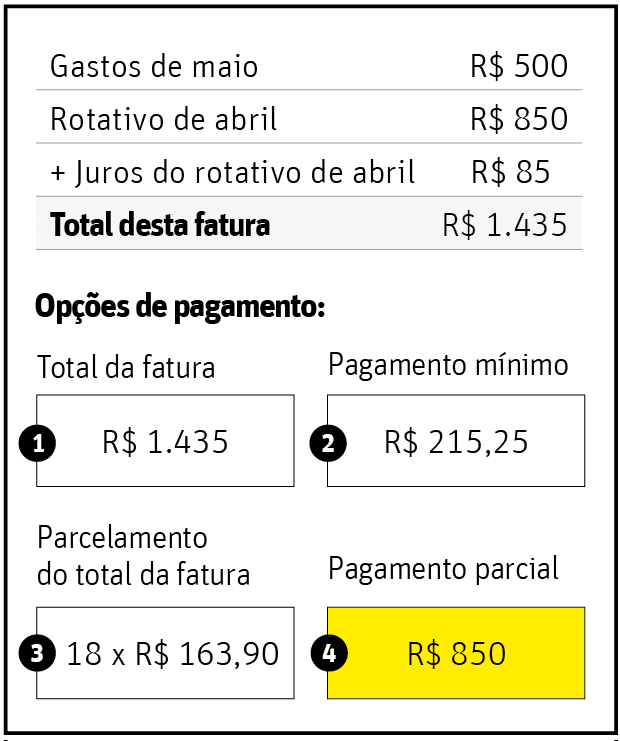Folha - Em outro momento comemorativo, nos anos 1990, você demonstrou
desconforto com a celebração da tropicália e disse "a luta continua".
Cinquenta anos depois da eclosão do movimento, o que move seu ânimo
anticelebratório?
Caetano Veloso - A impressão que me ficou desse episódio (de que
não lembro claramente) foi que "a luta continua" era uma maneira
alternativa de celebrar, não representava propriamente desconforto com o
fato de haver a celebração.
Eu me sinto hoje mais anticelebratório do que então, eu acho. Toda a
turnê com Gil [2015/2016] foi de celebração. Gostei imensamente dos
shows, mas cada projeto novo de celebração me dá preguiça.
O Carnaval da Bahia tinha [neste ano] o tropicalismo como tema. Não
topei nada. Mas na sexta-feira, quando Gil e Moreno [filho de Caetano]
foram cantar no Pelourinho, decidi ir, quis ir, fiquei contente de ter
ido.
O imaginário tropicalista tinha na obra de Oswald de Andrade
(1890-1954) uma âncora. Por que Mário de Andrade (1893-1945), também da
linha de frente do modernismo, não foi mobilizado pelo movimento?
Eu ouvia falar em Mário de Andrade desde o colégio. Um colega do
clássico [ensino médio], Wanderlino Nogueira Neto, me disse lá por 1962
que havia uma figura mais interessante na Semana de Arte Moderna, Oswald
de Andrade, mais anárquico e provocativo.
Eu era menos organizado do que hoje em dia e nem sequer tinha lido nada
de Mário. Lia trechos que apareciam na escola. De Oswald, nada.
A Semana era uma dessas coisas de São Paulo que pareciam não contar, não existir ou não fazer parte do que importava no Brasil.
Oswald mesmo só chegou até mim na montagem d' "O Rei da Vela" pelo
Oficina em 1967. Comentei com Augusto [de Campos] quão impressionado
tinha ficado com a peça. Ele me disse que era uma das coisas menos
importantes do Oswald e me passou obras do próprio: "Pau Brasil", os
manifestos, o "[Memórias Sentimentais de João] Miramar", tudo. Foi uma
revelação.
Oswald parecia sintetizar o turbilhão que vinha me passando pela cabeça
desde 1966, desde "Terra em Transe" [de 1967]. Li e reli "Miramar" e
"Serafim Ponte Grande", mas continuei sem aguentar "Macunaíma".
Hoje, o que mais penso é em como a homofobia de Oswald não me causou
repulsa (nem a Zé Celso), enquanto tudo que há de veado em Mário nunca
me atraiu.
Sua geração contracultural ficou marcada por conquistas no campo dos
direitos civis e das liberdades individuais. Como você percebe a virada
conservadora em vários países, de Trump a Temer?
Era natural. Esperava por ela. Mas a realidade sempre surpreende. Muitas
vezes, voltam à minha memória as palavras de Rogério Duarte [músico e
artista gráfico responsável pela identidade visual da tropicália] quando
Jânio [Quadros] venceu a eleição para a Prefeitura de São Paulo contra
um Fernando Henrique favorito, em 1985. "Eu gostei. Gosto do que
acontece." Era um nietzscheanismo que me fascinava.
Quando olho para as figuras de Temer, parecendo saído de 1953 –e, como
disse a "Economist" num artigo favorável a ele, com o gestual de um
mágico de palco–, e de Trump (um pop retrógrado), me lembro do "gosto do
que acontece".
Mais prosaicamente, às vezes torço para que os ajustes do governo Temer
deem certo, só porque não gosto de ver o Brasil não funcionar. Mas meus
projetos e sonhos são de grandeza, de ver brotar no Brasil uma força
que libere a criatividade de todos os homens e mulheres que nasceram
falando português na América e desenhe uma ordem social que ilumine o
mundo.
Esses ajustes dos golpistas que prometem pouco a poucos e a prazo
longuíssimo não sugerem nada disso. Principalmente quando parecem
prometer somente aos poucos que já têm relativamente muito.
O Brasil é meio desafinado, tem o ritmo frouxo e as sílabas tônicas fora
dos tempos fortes. A PF explode um escândalo que nos leva a crer que só
comemos carne podre e os estrangeiros a fugirem de nós, no dia em que faz três anos que a Lava Jato alimenta devaneios de puritanismo. Os nordestinos veneram Lula enquanto esboçam atração por Bolsonaro. Fernando Henrique é visto no mundo de Renan e Jucá.
Todo esse namoro da esquerda com as pautas das liberdades individuais
soa estranho. Era o que nossa geração queria. Mas era mais bonito e mais
efetivo quando era tudo junto e misturado. A compartimentação enche o
saco.
Você já chamou o impeachment de Dilma Rousseff de "golpe em câmera
lenta". Como avalia o fortalecimento da direita? Onde a esquerda errou?
Um golpe paraguaio em câmera lenta.
Dilma não tinha talento. Gosto dela, mas seu governo foi ruim. O plano
Dilmantega não ajudou o país em nada. Podemos até dizer que a esquerda
errou ao referendar tudo o que Lula quisesse. Ele disse "Dilma"? Então
Dilma. Mas isso é só um espirro. A esquerda vem de séculos de erros: o
esquema marxista de fatalidade histórica com estágios definidos; as
revoluções que deram sempre em autocracias; a fantasia classe média de
que a classe média é o inimigo.
Recentemente, você se debruçou sobre a obra do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. O que o atrai no pensamento dele?
Conheço Eduardo há décadas. Gostei dele de cara. Ele tinha feito o
trabalho sobre os índios Araweté. Sou um apaixonado por "Tristes
Trópicos", do Lévi-Strauss, mas não sou da tribo dos antropólogos.
Ler os livros de Viveiros de Castro agora (coisa que devo a outro
Eduardo, o Giannetti) foi uma experiência intensa. Eu tinha lido um
texto dele, "Quem Tem Cu Tem Medo" [refere-se a "O Medo dos Outros"], de
onde até tirei a frase "virar jaguar" para a letra de "O Império da
Lei". Achei eloquente, instigante e engraçado, mas não vi o tamanho do
engenho intelectual que é a cabeça de Eduardo.
Agora, ao terminar de ler, de enfiada, "A Inconstância da Alma Selvagem"
[Cosac Naify], "Metafísicas Canibais" [idem] e "Há Mundo por Vir?"
[Cultura e Barbárie], fiquei assombrado com a inteligência dele, com a
enorme erudição que alimenta as referências, com a vivacidade de sua
prosa e a beleza dos argumentos.
O mais lúcido seguidor das modas pós-estruturalistas (nunca ninguém me
fez gostar mais de Deleuze do que ele), Eduardo é também o "claro
instante" [expressão de Lévi-Strauss] em que o jogo vira. Continuo do
lado de "O Mundo desde o Fim", de Antonio Cicero, do "Self Awakened" de
Mangabeira [Unger], do Quarto Império de MD Magno [psicanalista], do
amálgama de José Bonifácio [o Patriarca da Independência] e do "Samba
dos Animais" de Jorge Mautner, mas tudo tem de passar pela experiência
de ter lido Viveiros.
Em 2017, seu "Verdade Tropical" [misto de livro de memórias,
autobiografia e ensaio] faz 20 anos. Que aspectos da vida brasileira
estimulariam novo esforço ensaístico?
"Verdade Tropical" mereceria alguma coisa ao chegar a essa idade. Eis
uma celebração que eu acolheria com ânimo. Mas, afora a ideia de que
saísse uma nova edição, por causa desse gancho –coisa em que a editora
[Companhia das Letras] nem parece ter pensado–, qualquer celebração
relativa a isso, de minha parte, teria que ser mais uma errata, uma
série de correções ou revisão de argumentos.
Por muito tempo, você se declarou ateu. Esse sentimento segue inabalado?
Nunca foi propriamente um sentimento. Ou, pelo menos, só às vezes
aparece assim. Foi reação contra a hipocrisia e respeito pela felicidade
de ser.
Nunca fui ateu inteiramente: sempre faço o sinal da cruz quando o avião
vai decolar, mantenho as fotos da imagem de N. Senhora da Purificação
que minha mãe me deu para pôr em cada casa que tenho tido, acho fortes
os pensamentos de Mangabeira [Unger] sobre as grandes religiões serem
esforços humanos para encarar nossa condição mais efetivos e abrangentes
do que as filosofias. E crio superstições para aguentar o total
descontrole do futuro.
Mas adoro o ateísmo. Detesto quando ele é tomado como proibido, quando figuras públicas não podem se dizer ateias.
O cinema ocupa um lugar relevante em suas conversas, ensaios e
canções. Depois da experiência de "O Cinema Falado" (1986), ainda pulsa o
desejo de filmar?
Sim. É algo que fica recalcado. O desejo ainda pulsa e vai pulsar até o
fim. Quando sento na [sorveteria] Cubana, no alto do Elevador Lacerda,
quando vejo moças como Priscila Santiago [Miss Bahia 2013] nas ruas da
Bahia, quando penso no encontro com Marco Polo [ex-dono de uma barraca
de coco na praia do Porto da Barra] na minha volta de Londres
–principalmente quando me lembro de imagens de filmes que vi nas telas
de tantos cinemas–, tenho nostalgia de uma vida dedicada ao cinema.
Na juventude, a leitura de Sartre teve peso grande em sua formação.
"As Palavras" (Nova Fronteira) repercutiu em sua visão de mundo. Como se
vê, hoje, em relação à busca de liberdade? Sente-se mais livre?
Achava "As Palavras" o melhor livro já escrito. Rogério Duarte comentava
que isso dava a dimensão da minha ignorância. A liberdade que saltava
dos textos de Sartre e Simone de Beauvoir ecoava em meu espírito. Depois
aprendi outras dificuldades. Agora, entrando na velhice, aprendo outras
limitações. Ninguém é mais livre com menos elasticidade e menos
equilíbrio.